Já sentiu culpa por se deixar levar pelo ócio? Não é fácil ceder a um instinto ancestral quando tudo à volta nos impele a ser produtivos e orientados para objetivos. Deixe-se arrastar por esta ociosidade que filósofos, psicólogos e psicanalistas consideram ser o grande ato de liberdade contra estes tempos governados por uma compulsão para o entretenimento permanente.
***
Agora que a economia recomeçou a mexer, os restaurantes reabriram, as filas de trânsito regressaram e os ritmos voltam gradualmente aos níveis da pré-pandemia, não tardará a darmos por nós a suspirar, outra vez, por um bocadinho de sossego. Não deixa de ser estranho como, durante estes últimos meses, muita gente andou preocupada com o perigo de não virmos a aguentar a pressão de ficar em casa sem fazer nada. Embora «fazer nada» não seja propriamente a melhor forma de descrever os dias de quem acumulou tarefas domésticas, filhos com telescola e teletrabalho.
Mas, adiante, assim que o confinamento foi decretado, médicos, psicólogos ou bloggers propuseram que arrumássemos gavetas e armários, fizéssemos jardinagem e bricolage ou, então, desencantássemos talentos adormecidos para sobreviver ao isolamento. Os museus ofereceram visitas virtuais, as livrarias disponibilizaram livros online, os artistas entretiveram-nos das suas varandas e nas redes sociais, as revistas e jornais encheram páginas inteiras de boas sugestões para ocupar o tempo.
E nós, que andávamos a salivar por um bocadinho de ócio nas nossas vidas, ficámos cercados de propostas de atividades e tarefas que, embora triviais, tiveram como grande finalidade fazer-nos sentir enquadrados, úteis e produtivos. Se isso não é o cúmulo da ironia, o que será então?
O eterno dilema

O paradoxo não é novo para os investigadores. O psicólogo social Christopher Hsee foi um dos que sujeitou um grupo de cobaias humanas a doses controladas de tédio para estudar esse dilema. Serviu esta experiência para concluir que vivemos encurralados entre o instinto de não querer fazer nada – vindo dos nossos antepassados que precisavam de poupar energias – e a cultura destes tempos modernos, governada por uma compulsão para estarmos permanentemente entretidos.
Talvez por isso, boa parte das pessoas prefira encontrar caminhos alternativos mais longos do que ficar 10 minutos presa no trânsito. E se sinta muito mais aborrecida quando espera parada frente à passadeira de bagagens do aeroporto do que se passasse o mesmo tempo a caminhar para esse tapete rolante.
Apesar do instinto para a ociosidade, somos mais felizes quando estamos ocupados, conclui o investigador americano. A menos que haja um motivo para ser ativo, a tendência será não fazer nada – um vestígio evolutivo para economizarmos esforço, reminiscência de uma época em que a espécie humana tinha uma existência bem mais precária. Como já não existem as mesmas exigências para garantir a sobrevivência, o que sobra é excesso de energia para gastar em atividades, trabalho e lazer. Ainda assim insuficiente para abafar essa pontinha de ócio que persiste no nosso íntimo. Daí o eterno conflito.
Sem rumo nem propósito
Fora do horário de trabalho, o ócio sem rumo nem propósito, mais do que desconforto, provoca culpa por não se estar a fazer algo útil. Essa é a imposição que se foi sobrepondo a tudo, sufocando e deteriorando o significado de ociosidade. Quando os vazios só servem para serem preenchidos com conteúdo, qual passa a ser a importância de uma tarde inteira a olhar pela janela?
No livro Not Working: Why We Have to Stop (2019), o psicanalista inglês Josh Cohen procura explorar as várias medidas do ócio – que é distinto da preguiça e da depressão – para concluir que, ao eliminar este vazio do quotidiano, a existência humana fica mais pobre tanto criativa como emocionalmente.
Não se trata apenas do trabalho «no trabalho», mas também o trabalho no consumo, o trabalho no entretenimento e o trabalho na necessidade de realização pessoal em função do que é expectável pelos outros. «Ao concebermo-nos como criaturas de ação e propósito – alerta ele – declaramos guerra a uma dimensão humana essencial, privando-nos daquilo que o psicanalista britânico DW Winnicott chama de a mais simples de todas as experiências, a experiência do ser».
A filosofia da eficiência
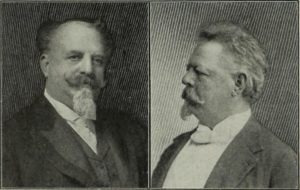
Mas, antes disso, saberemos o que somos nós sem o nosso trabalho? É que já não é fácil esse reencontro com o ócio depois de séculos a ser sacrificado em nome da racionalidade, da produtividade e do progresso. No livro «Idleness: A Philosophical Essay» (2018), Brian O’Connor aponta a corrente filosófica do iluminismo como a origem desse desencontro. Desde o século 18 que vamos seguindo o seu rasto de luz, interiorizando as suas regras e aceitando a doutrina da utilidade, do pragmatismo e da eficiência. É isso que confere estima e valor social, nos dias que correm.
Entre muitas definições, O’Connor descreve o ócio como uma atividade. Isso mesmo, uma atividade como cozinhar, trabalhar ou ir ao ginásio. A diferença é que não há metas, meio nem fim. O que torna tudo num desafio tremendo. A necessidade de ter um caminho, muitas vezes, a necessidade de que nos apontem esse caminho, não existe no ócio. Entregamo-nos a ele, sabendo que não nos levará a lugar nenhum. Ou, pelo menos, não é isso que nos motiva. E é então que o ócio se transforma em liberdade – dos deveres que nós próprios e os outros nos impõem, seja pelos modelos da economia, da cultura ou da filosofia dominantes.
A queda do homem disciplinado

A ociosidade não passa de uma criança a brincar sem bonecada nem ecrãs, mas sozinha, fazendo o seu próprio percurso para explorar livre de regras e de preocupações. É a liberdade de restrições exteriores justificadas pelas exigências do trabalho, da carreira e desses valores que interiorizamos a vida toda. Não é por acaso que Brian O’Connor defende o ócio como uma atividade muito mais radical que o lazer. É ela que ameaça derrubar o paradigma do indivíduo eternamente disciplinado e orientado para os objetivos.
Encaixar espaço para o ócio nas nossas vidas contraria praticamente tudo para o qual fomos doutrinados. Está bem longe da ideia romântica do dolce fare niente (é bom não fazer nada) dos italianos. Tendo em conta que é um ato subversivo, faz mais sentido a citação de Oscar Wild que Josh Cohen usa no seu livro: «Não fazer nada é a coisa mais difícil do mundo, a mais difícil e a mais intelectual». Que não seja isso a impedir o ócio de ocupar finalmente o seu lugar.



