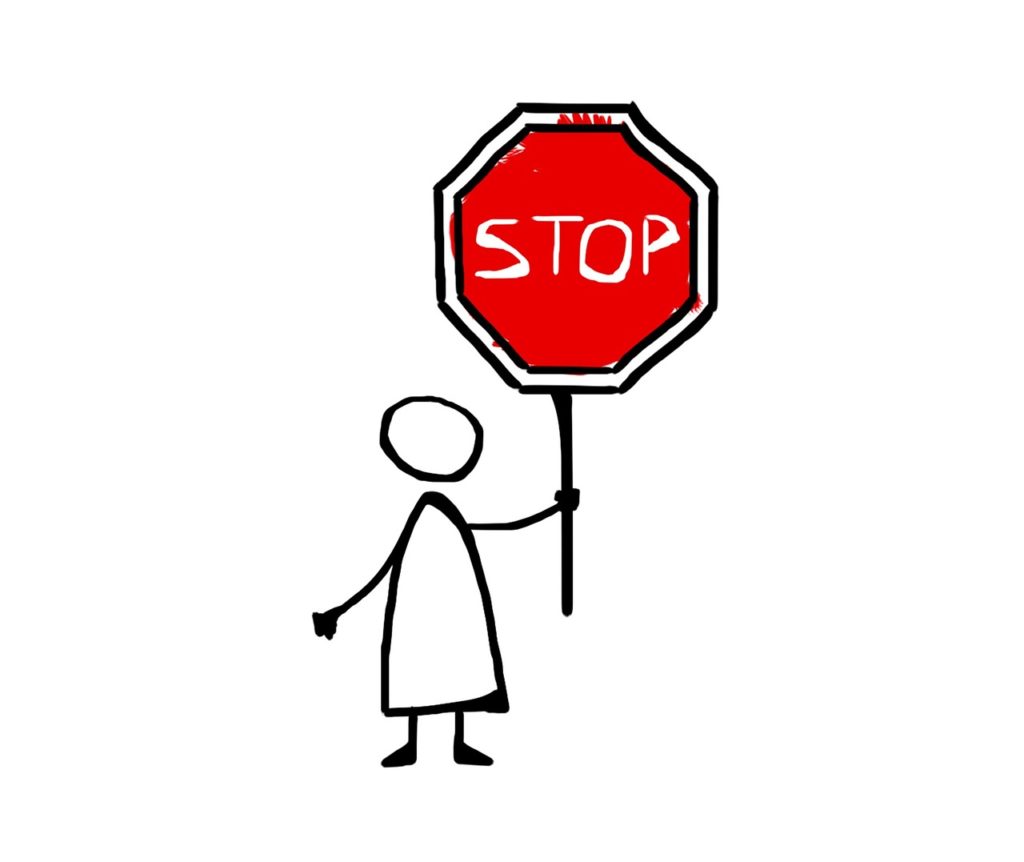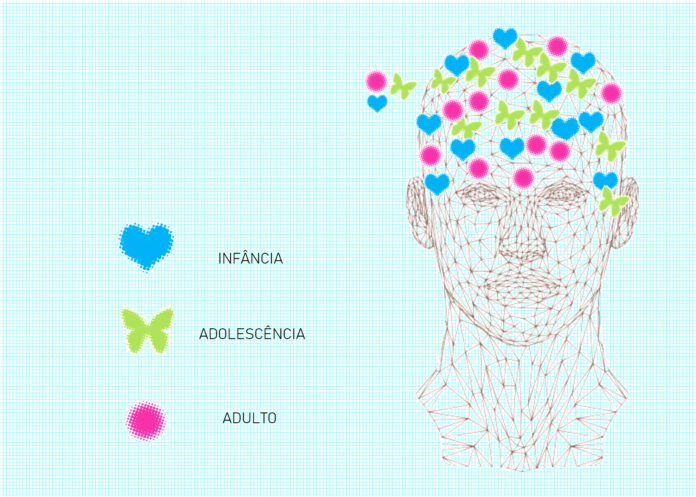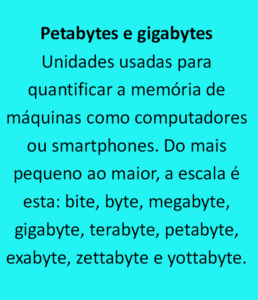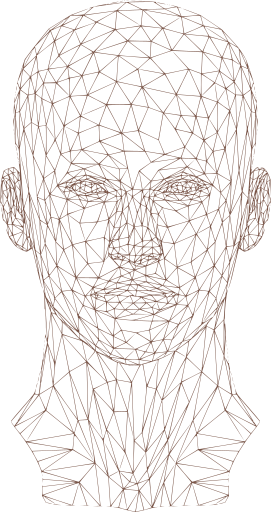Só porque pintava doces, frutas ou anjos de bochechas rosadas, Josefa foi malvista na arte portuguesa. Os críticos não perceberam que a doçura das suas obras deu ao Barroco um estilo bem português. E que de parvinha não tinha nada. Ela foi a primeira pintora portuguesa, que com a sua arte, sustentou a família e geriu negócios de sucesso. Tudo isso numa época em que as mulheres não davam um passinho sem pedir licença aos papás ou aos senhores seus maridos.
Era uma vez três vaquinhas… Bem, vaquinhas é maneira de dizer. A Galante, a Cereja e a Formosa pesam mais de 300 quilos cada e dão litradas de leite. É Josefa que se encarrega desta tarefa. Fala com elas, enquanto enche dois ou três baldes, e sai apressada, porque ainda tem de dizer bom dia às galinhas e dar algumas instruções aos caseiros. De regresso a casa, apanha uma mão-cheia de cenouras e nabos da horta e coloca-a numa cesta em cima da mesa da cozinha. Limpa as mãos sujas de terra no avental, mas volta a sujá-las de tinta assim que entra na oficina para passar o resto do dia entre telas, cores e pincéis.
Josefa tem muitas encomendas, de igrejas, conventos, famílias da nobreza e da realeza. Quadros, estampas, gravuras em metal, olaria, tapeçarias, relíquias e também retábulos, que são os que mais sucesso fazem. É com a arte que sustenta a mãe e as duas sobrinhas órfãs a viverem com ela no Casal da Capeleira, uma quinta na vila de Óbidos. E sobra ainda bastante dinheiro para comprar quintas, casas e terrenos.
Josefa é daquelas supermulheres que põe toda a gente a pensar como é que o raio da moça consegue fazer tudo.
Convém explicar que não é de uma mulher do século 21 que esta história conta. Ela nasce em 1630, em Sevilha, mas aos quatro anos muda-se com a família para Óbidos, a vila natal do pai.
As mulheres, em pleno século 17, estão ainda a milhas de vislumbrar os direitos mais básicos. As que casam têm de pedir licença aos maridos até para ir à casa de banho. As solteiras vivem o resto da vida em casa dos pais ou a rezar nos conventos e, por mais adultas e responsáveis, também não podem dar um passinho sem consultar os senhores seus pais.
No princípio, Josefa segue as mesmas pisadas da maioria das mulheres solteiras. Aos 16 anos, entra no Convento Agostinho de Sant’Ana, em Coimbra, mas, apesar de muito devota, achou que a vida de freira não era bem a praia dela. Ao fim de três anos, voltou para a casa dos papás. Mas não para viver à custa deles. Enfiou-se na oficina do pai e continuou a pintar com ele.
Uma vedeta na vila

Gentes de todo o país e até de Espanha fazem um desvio quando vão às Caldas só para cumprimentar Josefa
Aos 19 anos, ela vende quadros como bolinhos quentes e aos 30 já é uma vedeta. A fama de Josefa chega tão longe que gentes de todas as partes do país e até mesmo de Espanha, sempre que vão às termas das Caldas da Rainha, fazem um desvio só para cumprimentá-la em Óbidos.
Causa estranheza ver como naquela época uma artista era tão popular como hoje são as estrelas de cinema. Só que o caso dela é único.
Josefa foi a primeira pintora profissional portuguesa. Havia outras mulheres a pintar, mas nenhuma conseguia ganhar a vida com a arte.
Mesmo assim, há qualquer coisa que não bate certo. Como é que ela vende quadros, compra e arrenda terrenos e quintas se, naquela época, as mulheres não tomam nenhuma decisão sem os pais ou os maridos autorizarem? Poder-se-ia pensar que Josefa não faz nada sem primeiro consultar o pai, Baltazar Gomes Figueira.
Mas não, Josefa não depende de ninguém, pai, marido ou tutor. Aos 30 anos ela consegue a emancipação administrativa. Mais não é do que um papelinho carimbado no cartório a dizer preto no branco que pode fazer os negócios que bem entende, vender e comprar propriedades e assinar contratos sem precisar de um homem por perto.
É um estatuto atribuído, por exemplo, às viúvas, mas Baltazar fez questão que a filha tivesse os mesmos privilégios. E foi graças a essa decisão que, após a morte do pai, em 1674, Josefa conseguiu assegurar a subsistência da família.
De culta a tontinha

Só porque pintava doces, flores e anjinhos, Josefa foi vista pelos intelectuais como beata e tontinha
As obras dela continuam hoje a ser vendidas e compradas, principalmente por colecionadores privados. Há quadros, retábulos ou tapeçarias suas espalhadas por igrejas, conventos, mosteiros, museus, fundações em Lisboa, Peniche, Torres Vedras, Évora, Coimbra ou em cidades espanholas como Madrid ou Sevilha.
Mas houve, entretanto, qualquer coisa que mudou nas últimas décadas. A arte dela foi deixando de ter importância. Em alguns casos, passou até a ser motivo de risota. Dizem os entendidos que os preconceitos de alguns críticos e intelectuais fizeram com que Josefa de Óbitos passasse de culta e determinada a pacóvia e beata. E tudo por acharem que pintar doces conventuais, frutas e flores é uma arte menor.
Ou, então, só porque estudou num convento de freiras e viveu numa vila afastada de Lisboa. Como se ser da província fosse o mesmo que ser tacanho. E os conventos fossem só para gente ingénua e sem ambição.
Pois, pelos vistos, alguns ainda pensam que, se escolhesse a capital para morar e conviver com as elites, certamente não tricotaria «rendas com pincéis» ou pintaria meninos Jesus «rechonchudos» que mais parecem «trouxas-de-ovos», como escreveu Miguel Torga no seu Diário.
Se Josefa pintou naturezas mortas, isso para alguns só mostra que não passa de uma mulher prendada, embora sem talento para pintar coisas mais nobres e sérias como o corpo e o rosto humanos com todos os seus detalhes. Essa, sim – sentenciaram eles -, é a arte que, ao contrário de flores, doces e outros salamaleques, demonstra o domínio da técnica e do conhecimento da anatomia humana.
E, assim, com duas ou três pinceladas carregadas de ideias feitas, tiraram a Josefa o direito a ocupar um lugar entre os melhores.
E, assim, com duas ou três pinceladas carregadas de ideias feitas, tiraram a Josefa o direito a ocupar um lugar entre os melhores.
Foram apressados a julgá-la. Se perdessem algum tempo a olhar com atenção para a obra dela, poderiam ver que não é por ser mulher que pinta anjinhos de olhos esbugalhados, boquinhas pequenas e bochechas rosadas.
A inventora do Barroco português

A doçura é aquilo que distingue Josefa de todos os artistas europeus do Barroco
A doçura, tantas vezes achincalhada, é a forma que ela encontrou de representar o divino. Ou melhor, a separação que ela faz entre os seres celestiais, como anjos e santos, e as pessoas como nós. E essa, dizem os especialistas, é uma das suas grandes originalidades, é aquilo que a distingue de todos os outros artistas do Barroco.
Quando os espanhóis ou os italianos usam a escuridão e os rostos contorcidos de dor para mostrar esse mesmo lado divino, Josefa usou a ternura sem, contudo, descuidar a técnica e o rigor aplicados nas rendas, joias, flores, frutos, bolos e olaria.
Esse preconceito, como todos os preconceitos, não desparece da noite para o dia. São precisos anos a fio para devolver o estatuto que Josefa merece ocupar na arte. Mas esse trabalho já começou. Há uns anos, por exemplo, o Museu Nacional de Arte Antiga dedicou-lhe uma grande exposição para mostrar que a sua arte não é só feita de bolos, frutas e flores, mas também de histórias que contam a vida de santos, de Cristo e que deram ao Barroco uma versão bem portuguesa.
E há dois anos e picos, chegou um quadro de Josefa ao Louvre, em Paris, oferecido por um galerista lusodescendente, Philippe Mendes. Maria Madalena confortada pelos Anjos é apenas mais uma entre as mais de 20 mil obras em exposição no museu mais famoso de França e do mundo. Não atrairá logo a atenção dos visitantes, sobretudo daqueles que correm contra o tempo para completar o roteiro das grandes estrelas como a Mona Lisa de Da Vinci, o Banho Turco de Ingres, ou os Pássaros de Braque. Mas o quadro está lá, dia e noite, fazendo parte das coleções permanentes. Entre os milhões que visitam o Louvre todos os anos, haverá alguém que vai parar para apreciar a arte de Josefa de Óbidos.